Entrevista: Thiago Martins de Melo, da exposição "Bárbara Balaclava"
Por Marcela Lins 
As alegorias perversas e viscerais de Thiago Martins de Melo, artista maranhense radicado em São Paulo, aportaram na Fundação Joaquim Nabuco nos últimos meses de setembro e outubro. A obra “bárbara balaclava”, uma potente animação que apresenta uma espécie de compêndio da história do Brasil, anuncia a trajetória de uma personagem (seria uma heroína?) - uma narrativa que não obedece a qualquer tipo de rigor estético ou cronológico e que aponta uma opressão vindoura de tempos passados, mas que se repete e se faz presente no aqui e no hoje.
Veja abaixo a conversa do artista com a equipe do muHNE.
Suas pinturas, mesmo que estáticas, são muito narrativas. Posteriormente você começou a inserir TVs em seus trabalhos. Por que a opção de fazer uma obra estritamente em animação?
Meu trabalho é muito narrativo, sempre foi. Até os títulos eram muito grandes porque tinham uma narrativa muito clara. E eu comecei a ter interesse pelas imagens em movimento, como uma nova camada de narração. Como se fosse mais uma expansão dessa narrativa saindo desse contexto físico bidimensional pra outra situação. Então quando eu comecei a fazer isso, comecei a injetar TVs nas telas. Comecei a fazer várias animações, como dois monitores de TV em uma pintura grande... E aquilo começou a crescer tanto que várias das cenas desse filme foram usadas em pinturas. Começou um pouco assim, como experimento. Bárbara Balaclava começou como experimento e depois se tornou algo muito concreto.
E minha ideia foi sempre fazer uma coisa meio tosca, uma técnica urgente. Muitas imagens, desenhos, pinturas. Você vê que a técnica muda o tempo inteiro. Vai de tinta a óleo a caneta, porque é uma urgência mesmo. É algo feito por puro desejo. Não foi uma técnica tradicional. Não existe uma grande proposta estética. Ele é meio provocador, não deixa teu olho se acostumar. O que tem de sofisticado é o som. Montar o som foi o mais difícil. Ele tem o papel de dar força à imagem, de dar profundidade. Torna o filme mais “palpável”.
É seu primeiro trabalho estritamente em vídeo?
É a primeira vez que isso se dá. Começou como algo que estava se construindo de uma necessidade minha de querer contar algumas histórias que já estavam ali. O que aconteceu é que aquilo se transformou numa metanarrativa. Um mesmo personagem que seria ‘selvagem’, que estaria a margem desse universo neoliberal. Comunidades não vivem nessa economia, que não estão a par desse sistema econômico e que são consideradas ‘bárbaras’. Na verdade é uma maneira de se ver um mundo que não aceita esse tipo de civilidade exterior.
Quando a obra foi concluída? Como você enxerga seu trabalho nesta conjuntura em que vivemos?
Em fevereiro deste ano [2016]. É algo que acontece o tempo todo, desapropriação de terra, genocídio indígena... Me inspirei, por exemplo, no caso da aldeia Cajueiro, Maranhão.
Para este trabalho?
Também. Fiz um trabalho com o povo Gamela [povos indígenas do Maranhão] e foi mais ou menos isso... Fiquei uns dias com eles e era isso: o pessoal passava de caminhonete dando tiro para o lado dos indígenas. Então esse tipo de situação que a gente tá passando agora mesmo, no filme, é muito comum. E tá cada vez pior, porque o congresso nacional agora está aparelhado para combater qualquer iniciativa mais à esquerda. Estão a serviço de um projeto conservador, liberal. É um momento muito perigoso.
E é um momento de tanta falta de leitura de mundo. As pessoas não interpretam mais nada. É mais fácil ser intransigente que tentar entender o outro. E isso interfere em tudo: na maneira com a gente tá escrevendo um texto, na maneira como a gente tá produzindo, nas relações humanas...
Eu sempre gostei dessa coisa da narrativa. Então eu acho até que o momento agora é propicio. Com essa desconstrução do país... um Brasil que voltou a negar a si mesmo, que almeja ser o que nunca foi. Levi Strauss dizia que o Brasil saiu da barbárie para a decadência sem passar pela civilização. Esses decadentes são bárbaros. Eles continuam com o mesmo método: de escravismo, de genocídio indígena, de xenofobia, de ódio ao trabalhados. Ódio ao que nós somos.
E quando eu digo ‘bárbara’ no título do trabalho não é pejorativo. Na verdade é assumir como o mundo ocidental pensa qualquer crítica, qualquer comunidade, qualquer meio de vida “fora”. Hoje, se você não tem um cartão de crédito, você é descartável. Mas é aquela coisa que dizia o subcomandante Marcos, depois Galeano, “outros mundos são possíveis”, né?
O Zapatismo soa como uma referência...
Eu estou doido para ir lá. Ano passado teve o compARTE... Eu estava lá em Oaxaca quando estourou a coisa lá dos maestros, dos professores... O negócio tá bruto.
A coisa tá muito bruta. Essa onda do conservadorismo tá forte no mundo todo. Então esse filme acabou sendo feito por uma urgência mesmo. Sabe esse clichê que se diz que uma obra se faz só? Que a pintura é que toma o seu próprio caminho... É mais ou menos o que aconteceu.
Há muita violência e, ao mesmo tempo, muita sexualidade. Você vê alguma relação da tua obra com o trabalho de Georges Bataille?
Engraçado, você é a segunda pessoa a falar isso. É que Georges Bataille, em A História do Olho, tem uma coisa de se perder em um universo fantástico, cruel, perverso e muito simbólico. Essas imagens tem um poder tão forte que elas rompem com limite daquilo que a gente tá falando e acabam entrando no imaginário de muita gente. É mais ou menos como eu vejo esse filme. Muitas imagens que têm nesse filme tocam muita gente. Fazem as pessoas acessarem outras coisas.
E essa maneira de ver, da sexualidade como expressão mesmo... São imagens que são simbólicas, alegorias que se repetem. Maneiras de ler de modo inconsciente fórmulas ou entendimento que são acessados não por uma linguagem verbal, mas por uma linguagem visual.
E o uso do tarô?
O tarô foi Viviane, minha ex-esposa. Eu sempre fui fascinado pelo tarô. Muitas pinturas minhas têm elementos do tarô, como o rei de espadas, o mago... Eu acho que o tarô é um desses sistemas que o mundo tem de se ler uma trajetória. Ele prevê toda uma jornada espiritual, uma jornada humana existencial que tá aí, que é possível de ser acessada. E Viviane jogou um tarô desse filme...
E o tarô acaba funcionando como uma espécie de chave de leitura do filme. Uma pessoa pode pegar esse tarô e interpretar esse personagem por meio desse jogo. Começa com o mundo, vem a Anansi, a aranha que é dona da história do mundo contando a história da Amazônia. Então tem essa relação. Se você se perde na história, tem a carta de tarô pra te guiar.
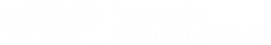
Redes Sociais