Uma Metodologia para a Preparação do Combate aos Efeitos da Seca
http://10.0.41.18/index.php?option=com_content&view=article&id=702
João Suassuna – Engenheiro Agrônomo e Pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco
Julho de 1999

Lagoa dos Ossos, Fazenda Pau Leite, Cariris Velhos, Taperoá (PB). Uma das regiões mais secas do Nordeste brasileiro - Foto de João Suassuna
APRESENTAÇÃO
Os efeitos de uma seca na vida das populações rurais são semelhantes em praticamente todas as regiões do mundo onde ela ocorre. Todavia, a forma de enfrentá-los e combatê-los depende muito da sensibilidade de cada país para com o bem-estar dos seus cidadãos. No Semiárido brasileiro, esse problema não tem merecido a atenção devida de seus governantes; não raro, medidas emergenciais (alistamento do povo em frentes de serviço no campo, distribuição de cestas básicas e de carros-pipa etc..) são postas em prática, servindo, apenas, para amenizar o sofrimento do povo até a chegada das chuvas providenciais, aspecto este que se tornou, nos dias atuais, um verdadeiro ciclo vicioso.O presente texto trata da metodologia idealizada pelo norte-americano Dr. Donald A. Wilhite para a preparação do combate aos efeitos de uma seca nos Estados Unidos e a nossa pretensão, face ao alcance social do seu conteúdo, é a de divulgar a forma pela qual essa problemática é tratada pelos americanos e possibilitar que esse tipo de experiência possa ser adaptada às condições de semi-aridez do Nordeste brasileiro.
UMA METODOLOGIA PARA A PREPARAÇÃO DO COMBATE AOS EFEITOS DA SECA
Dr. Donald A. Wilhite
INTRODUÇÃO
O número de desastres naturais notificados também cresceu significativamente nas três últimas décadas. O número de enchentes por exemplo aumentou de 142 nos anos 60 para 603 nos anos 80; o número de secas passou de 62 nos anos 60 para 237 nos anos 80 (Centro de Pesquisa em Epidemiologia de Desastres, 1991, conforme citado em Blaikie et al., 1994). A seca é também um dos desastres naturais mais sub-notificados porque as fontes da maioria dessas estatísticas são organizações internacionais de assistência ou organizações doadoras. A menos que países afetados pela seca requeiram ajuda da comunidade internacional ou de governos doadores, as secas não são notificadas. Assim, secas graves como as ocorridas na Austrália, no Uruguai, Brasil, Canadá, Espanha, Itália e Estados Unidos em anos recentes não estão incluídas nesta estatística.
A seca é considerada por muitos como o mais complexo, embora o menos compreendido entre os riscos naturais, e o que afeta mais pessoas que qualquer outro risco (Hagman, 1984). Assim por exemplo, as secas de início dos anos 80 na África ao sul do Saara, segundo informações, tiveram um efeito adverso sobre mais de 40 milhões de pessoas (Office of Foreign Disaster Assistance, 1990). A experiência com a seca durante as últimas décadas, tanto em países em desenvolvimento como em países desenvolvidos, e a magnitude dos impactos associados a ela mostram que a vulnerabilidade a períodos prolongados de escassez de água está aumentando e a uma velocidade cada vez maior. A seca de 1988 nos Estados Unidos, por exemplo, teve como resultado impactos estimados em aproximadamente US$ 40 bilhões (Riebsame et al., 1990), tornando esta seca de um ano de duração no desastre mais oneroso na história da América. Falkenmark (1992) estimou que o número de pessoas que vivem em países com problemas de água, ou escassez crônica de água, aumentará de 300 milhões para mais de 3 bilhões no ano 2025.
As estratégias de solução como resposta a preparação do combate aos efeitos da seca são numerosas e vão do nível individual ou doméstico até o nível nacional. Parry e Carter (1987) classificaram as políticas dos governos em respostas à variabilidade climática ou a eventos climáticos extremos em três grandes tipos: programas pré-impacto visando a redução do impacto; intervenções governamentais pós-impacto; e medidas de contingência ou planos de preparação. Programas governamentais pré-impacto são definidos como aqueles que tentam amenizar os efeitos futuros de variações climáticas. Exemplos relacionados com a seca incluem o desenvolvimento de um sistema de alerta precoce, aumento das reservas hídricas, redução da demanda (por exemplo, programas de conservação de água) e seguros para as lavouras. Intervenções governamentais pós-impacto se referem aos programas de reação à seca ou às táticas implementadas pelo governo em resposta à seca ou a algum outro evento climático extremo. Isto inclui uma ampla gama de medidas emergenciais de reação à seca tais como créditos a juros baixos, subsídios para o transporte de gado e ração animal, fornecimento de alimentos, transporte de água e poços para irrigação e o abastecimento de água ao público. Este enfoque reativo de gerenciamento da crise tem sido criticado por cientistas, funcionários dos governos e por muitos destinatários da ajuda como ineficiente, inefetivo e inoportuno (Wilhite, 1993). Mais recentemente, as ações emergenciais de ajuda em tempos de seca têm sido criticadas também pelo seu efeito de desincentivar o uso sustentável dos recursos naturais, já que não promovem a auto-ajuda (Bruwer, 1993; White et al., 1993). De fato, esta abordagem pode aumentar a vulnerabilidade às secas. Medidas de contingência se referem ao desenvolvimento de políticas e planos que podem ser úteis na preparação do combate aos efeitos da seca. Elas são geralmente desenvolvidas em âmbito nacional e estadual com o estabelecimento de vínculos para o âmbito local. Planos de preparação podem reduzir a vulnerabilidade às secas.
Até recentemente, as nações dedicavam poucos esforços à preparação do combate aos efeitos da seca dando preferência à abordagem tradicional de reação à seca ou de gerenciamento da seca. As deficiências no enfoque do gerenciamento da seca com relação à avaliação da seca e a resposta a ela estão amplamente documentadas (Wilhite, 1992). Elas incluem: 1) falta de índices climáticos adequados e sistemas de alerta precoce; 2) insuficiência da base de dados para avaliar as deficiências hídricas e os impactos potenciais; 3) ferramentas e metodologias inadequadas para a avaliação precoce dos impactos em vários setores; 4) fluxo insuficiente de informações dentro dos diversos níveis de governo e entre eles sobre a gravidade da seca, seus impactos, e políticas adequadas de respostas; 5) programas de ajuda emergencial inadequados ou inoportunos; 6) falhas na definição dos grupos alvo de programas de ajuda emergencial que não atingem os grupos populacionais e setores econômicos vulneráveis; 7) parcos recursos financeiros e humanos que são inadequadamente alocados; 8) falta de ênfase em programas pró-ativos de mitigação visando a redução da vulnerabilidade à seca; 9) deficiências institucionais que inibem uma resposta emergencial efetiva; e 10) falta de coordenação de políticas e programas dentro dos diversos níveis governamentais e entre eles.
Cada vez mais, os países estão adotando uma abordagem mais pró-ativa que enfatize os princípios do gerenciamento de risco do desenvolvimento sustentável. Devido aos múltiplos impactos associados à seca e às numerosas agências governamentais responsáveis por alguns aspectos do monitoramento, avaliação, mitigação e planejamento, o desenvolvimento de uma política e um plano deve ser um processo integrado dentro dos diversos níveis do governo e entre eles. Após uma breve visão geral sobre o conceito da seca, este artigo descreve um processo genérico que pode ser adotado por governos que queiram desenvolver uma abordagem mais abrangente e pró-ativa ao gerenciamento e planejamento da seca. Este é um processo oportuno, em virtude da declaração dos anos 90 como a década Internacional para a Redução de Desastres Naturais e de outras iniciativas globais sobre o desenvolvimento sustentável e a desertificação. Para obterem sucesso, estas iniciativas deverão abordar questões relativas ao manejo de riscos naturais. Um dos objetivos do congresso internacional sobre desertificação realizado em Paris, França, em junho de 1994, foi justamente promover o desenvolvimento de planos de preparação do combate aos efeitos da seca por países passíveis de serem afetados por este fenômeno.
O CONCEITO DA SECA
A seca é uma característica climática normal e recorrente em praticamente todos os regimes climáticos. É uma aberração temporária que ocorre em áreas tanto de alta como de baixa precipitação. A seca, portanto, se diferencia da aridez, já que esta se restringe a regiões de baixa precipitação e é uma característica permanente do clima. O caráter da seca é nitidamente regional, refletindo características meteorológicas, hidrológicas e sócio-econômicas singulares.
A seca deveria ser considerada em termos de uma condição média, de longo prazo, de equilíbrio entre precipitação e evapotranspiração em uma determinada área, uma condição freqüentemente considerada “normal”. É a conseqüência de uma redução natural na quantidade de precipitação recebida ao longo de um período maior de tempo, geralmente uma estação ou mais, embora outros fatores climáticos como altas temperaturas, fortes ventos e baixa umidade relativa do ar freqüentemente estejam associados a este evento em muitas regiões do mundo e podem agravar a intensidade dele. A seca também está relacionada com a época e a efetividade das chuvas.
A seca diferencia-se de outros riscos naturais em diversos aspectos. Em primeiro lugar, trata-se de um “fenômeno gradual”, tornando difícil determinar seu início e fim. Os efeitos da seca vão se acumulando lentamente ao longo de um período considerável de tempo e podem perdurar anos após a finalização do evento. Em segundo lugar, a falta de uma definição precisa, universalmente aceita da seca aumenta a confusão sobre a existência ou não de uma seca e, no caso afirmativo, sobre sua gravidade. Em terceiro lugar, os impactos da seca são menos evidentes e se espalham em uma área geográfica maior que os danos causados por outros riscos naturais. A seca raramente provoca danos na infra-estrutura. Por essas razões, a quantificação dos impactos e das ações emergenciais de ajuda é uma tarefa mais difícil no caso da seca do que no de outras catástrofes naturais.
Como a seca afeta tantos os setores econômicos como os sociais, diversas disciplinas desenvolveram alguns grupos de definições. Além disso, como a seca ocorre com freqüência variável em quase todas as regiões do planeta, em quase todo tipo de sistemas econômicos e tanto em países em desenvolvimento como em países desenvolvidos, a abordagem para defini-la deveria considerar a especificidade de cada impacto em cada região. A falta de uma definição precisa e objetiva em situações específicas tem sido um obstáculo para entender a seca, o que tem conduzido à indecisão e/ou inatividade dos gestores, formuladores de políticas e outros. Deve-se aceitar que a importância da seca reside nos seus impactos.
A seca tem sido classificada por tipos, como os seguintes: secas meteorológicas, hidrológicas, agrícolas e sócio-econômicas (Wilhite e Glantz, 1985). A seca meteorológica é expressada apenas com base no grau de sequidão (freqüentemente em comparação a algum volume “normal” ou médio) e a duração do período seco. Definições de seca meteorológicas devem ser consideradas como específicas de uma região, em virtude de que as condições atmosféricas que conduzem à falta de precipitações variam consideravelmente de região para região. Secas hidrológicas estão mais relacionadas com os efeitos de períodos de escassez de precipitação sobre as águas superficiais ou subterrâneas (por exemplo, vazão, níveis de reservatórios e lagos, água subterrânea) que com a redução da precipitação. Secas hidrológicas são geralmente defasadas ou acontecem após a ocorrência de secas meteorológicas e agrícolas. A água em sistemas de armazenamento hídrico (por exemplo, reservatórios, rios) é muitas vezes usada para objetivos múltiplos e concorrentes, o que complica ainda mais a seqüência e quantificação dos impactos. A concorrência pela água nesses sistemas de armazenamento aumenta durante a seca e conflitos entre usuários da água crescem significativamente. Como as regiões estão interconectadas por sistemas hidrológicos, uma seca à montante pode produzir graves impactos à jusante a medida que as reservas de água superficial e subterrânea são afetadas, mesmo que as áreas à jusante não estejam sujeitas à seca meteorológica. Mudanças à montante no uso do solo (por exemplo, desmatamento, alterações nos padrões de cultivo) podem alterar o escoamento e as taxas de infiltração no solo, o que pode afetar a freqüência e a gravidade de secas à jusante.
Finalmente, a seca sócio-econômica associa a oferta e demanda de um bem econômico com elementos da seca meteorológica, hidrológica e agrícola. Os processos de tempo e espaço referente à oferta e demanda são os dois processos básicos a serem considerados em uma definição objetiva da seca. Por exemplo, a oferta de um bem econômico (por exemplo, água, alimentação animal, energia hidrelétrica) depende do clima. Na maioria dos casos, a demanda cresce como resultado do aumento da população e/ou do consumo per capita. Portanto, a seca poderia ser definida como um evento que ocorre quando a demanda supera a oferta, como produto de uma deficiência na oferta em função do clima. Este conceito de seca reforça a forte simbiose que existe entre a seca e as atividades humanas, enfatizando ainda mais a importância de manejo dos recursos naturais de maneira sustentável.
ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE PREPARAÇÃO DO COMBATE AOS EFEITOS DA SECA
Os fatores que podem estimular os governos a desenvolverem planos de combate aos efeitos da seca são numerosos e variam de um país para o outro. Estes fatores podem ser externos, como por exemplo a conclamação para o desenvolvimento de planos de combate à seca efetuado pela Organização Mundial de Meteorologia (WMO) em 1986 (Obasi, 1986), ou internos, como a ocorrência de graves secas e concomitantemente, de impactos econômicos, sociais e ambientais que afetam significativamente a economia e o avanço de uma nação com relação a suas metas de desenvolvimento. Embora tanto os fatores externos como os fatores internos sejam importantes, é necessário que exista o apoio interno para que o processo possa avançar. Infelizmente, os esforços de resposta de muitos países têm sido pouco, se algum efeito sobre a redução da vulnerabilidade, principalmente devido a sua ênfase em ações emergenciais.
De fato, a vulnerabilidade à seca aumentou em alguns contextos devido à expectativa dos destinatários das ações quanto à obtenção de assistência por parte dos governos ou doadores. Se produtores agrícolas ou outros grupos destinatários de assistência permanecerem na expectativa de que o governo ou organizações doadoras os assisti-los-ão em épocas de penúria, esta prática irá desestimular ou desincentivar os esforços para a auto-ajuda. Em regiões agrícolas periféricas, proporcionar ajuda aos produtos agrícolas pode promover práticas de uso do solo que podem não ser sustentáveis a longo prazo. O desincentivo ao manejo adequado da base de recursos naturais caracteriza a prestação de assistência na maioria dos países.
A decisão sobre a preparação de um programa de combate aos efeitos da seca cabe sempre a um representante político de alto escalão. Se este representante não tomar a iniciativa para o processo de desenvolvimento do plano, ele precisará ser convencido da necessidade de um plano e dos benefícios que resultarão daí para que o processo possa avançar. Esta pode ser uma tarefa monumental e que levará tempo. Os defensores do plano deverão começar estabelecendo apoios para o processo de planejamento em agências chave do governo e avaliar a experiência existente no país para auxiliar o processo. A formação de consenso é uma parte importante do processo que (se bem conduzida) aumentará as perspectivas de iniciar e concluir o plano com sucesso. Em alguns casos, um plano de desenvolvimento ou gerenciamento de recursos hídricos regionais ou nacionais já poderá estar em funcionamento e um plano de combate aos efeitos da seca, uma vez concluído, poderá ser incorporado a esta estratégia mais ampla.
Embora os princípios do planejamento do combate aos efeitos da seca já sejam conhecidos há algum tempo, tem sido notória a ausência de avanços em direção à sua preparação. Essa falta de progresso seria indicativa da existência de impedimentos ou limitações ao planejamento do combate aos efeitos da seca e de que eles precisam ser abordados para que o processo de planejamento possa ter sucesso.
LIMITAÇÕES NO PLANEJAMENTO DO COMBATE AOS EFEITOS DA SECA
Limitações de ordem institucional, política, orçamentária e de recursos humanos freqüentemente dificultam o planejamento do combate aos efeitos da seca (Wilthite e Easterling, 1987a). Uma limitação importante que existe em âmbito mundial é a falta de compreensão do fenômeno da seca por políticos, formuladores de políticas, pessoal técnico e o público em geral. A falta de comunicação e de cooperação entre cientistas e a comunicação inadequada entre cientistas e os políticos responsáveis pela elaboração de políticas sobre o significado do planejamento do combate aos efeitos da seca também complica os esforços para dar os passos iniciais em direção à preparação. Em virtude de que a seca ocorre apenas esporadicamente em algumas regiões, os governos podem ignorar o problema ou conceder-lhe reduzida prioridade. Recursos financeiros inadequados para proporcionar ajuda e áreas concorrentes de jurisdição institucional dentro dos níveis do governo e entre eles podem também contribuir para desestimular governos de empreender o planejamento. Outras restrições incluem barreiras tecnológicas (como dificuldades para a previsão e detecção da seca), bancos de dados insuficientes e tecnologias inadequadas de mitigação.
Os responsáveis pela elaboração de políticas e os burocratas precisam compreender que secas, como enchentes, são uma característica climática normal. Sua ocorrência é inevitável. Embora não possamos influenciar a ocorrência do evento natural (ou seja, da seca meteorológica), podemos reduzir a vulnerabilidade através de previsões mais confiáveis, melhoria dos sistemas de alerta precoce e medidas adequadas e oportunas de mitigação e preparação. As formas de manifestação das secas envolvem áreas da competência de numerosas organizações burocráticas (por exemplo do setor da agricultura, recursos hídricos, saúde, etc.) e níveis governamentais (por exemplo, federal, estadual e local). Interesses concorrentes, rivalidades institucionais e o desejo de proteger a missão de sua agência (ou seja, a proteção do próprio território) impedem o desenvolvimento de uma avaliação precisa da seca e de iniciativas de resposta. Para resolver esse problema, os responsáveis pela elaboração de políticas e os burocratas, bem como o público em geral, deverão ser conscientizados sobre as conseqüências da seca e as vantagens de uma preparação. A seca é um problema interdisciplinar que requer insumos por parte de muitas disciplinas e formuladores de políticas.
O desenvolvimento de um plano de preparação para o combate aos efeitos da seca é um passo significativo na adoção de uma abordagem de prevenção e antecipação visando o gerenciamento dos recursos. O planejamento, se empreendido corretamente e implementado em períodos sem seca, pode melhorar a capacidade dos governos de dar uma resposta efetiva e oportuna durante períodos de crise. Assim, o planejamento pode amenizar e, em alguns casos, evitar impactos ao mesmo tempo que reduz o sofrimento físico e emocional do povo. O planejamento é um processo dinâmico que precisa incorporar tanto tecnologias tradicionais como emergentes e levar em consideração tendências sócio-econômicas, agrícolas, tecnológicas e políticas.
É difícil, às vezes, determinar os benefícios da preparação para o combate aos efeitos da seca versus os custos da ausência de preparação. Há poucas dúvidas de que a preparação requer recursos financeiros e humanos que, freqüentemente, são escassos. Este custo sempre foi e continuará sendo um impedimento. Os custos da preparação são definidos e ocorrem agora enquanto que os custos da seca são incertos e ocorrerão posteriormente. Um fator que ainda complica mais esta questão é o fato que os custos da seca não são apenas econômicos. Também devem ser expressos em termos de sofrimento humano, danos a recursos biológicos e a degradação do ambiente físico, questões cujos valores são intrinsecamente difíceis de serem estimados.
Avaliações pós-seca mostraram que os esforços de avaliação e resposta de governos com nível baixo de preparação foram, em sua maioria, inefetivos, mal coordenados e ineficientes em termos de alocação dos recursos. Embora as despesas dos governos com ações emergenciais sejam significativas e não podem ser previstas, elas geralmente são mal documentadas. Entretanto, existem alguns exemplos. Durante as secas de meados dos anos 70, nos Estados Unidos, especificamente 1974, 1976 e 1977, o governo federal gastou mais de US$ 7 bilhões em programas de ações emergenciais (Wilhite et al., 1986). Como resultado da seca de 1988, o governo federal despendeu US$ 3,9 bilhões em programas de ações emergenciais e US$ 2,5 bilhões em programas de créditos agrícolas (Riebsame et al., 1990). Um pacote de ajuda para situações de catástrofe foi aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos em agosto de 1989 como resposta à persistência de algumas condições da seca. Entre 1970 e 1984, o governo federal e os governos estaduais da Austrália despenderam mais de A$ 925 milhões em ações emergenciais no âmbito das Medidas de Ajuda para Desastres Naturais (Wilhite, 1986). A República da África do Sul gastou R$ bilhões em ações emergenciais entre meados dos anos 70 e meados dos anos 80 (Wilhite, 1987). Se comparado com essas despesas, um pequeno investimento em programas de mitigação anteriores à seca poderia parecer uma sábia decisão econômica. A lógica para a implementação de medidas de prevenção deve ser pesada não apenas contra uma análise retrospectiva dos custos das ações emergenciais, mas também contra custos de assistência futuros e economias decorrentes da redução dos impactos econômicos, sociais e ambientais. Embora seja difícil quantificá-la, essa economia será significativa.
É igualmente importante lembrar aos responsáveis pela tomada de decisões e pelas políticas, que na maioria dos casos, os esforços de planejamento do combate à seca utilizarão estruturas políticas e institucionais existentes nos níveis correspondentes de governo, minimizando assim os custos iniciais e de manutenção. Também parece provável que alguns recursos possam ser economizados como resultado da melhoria da coordenação e a eliminação da duplicação de esforços entre agências ou níveis do governo. Assim também, planos deveriam ser incorporados a planos gerais de desenvolvimento e gerenciamento de desastres naturais e/ou recursos hídricos, sempre que possível. Isso reduz substancialmente o custo da preparação. Políticos e muitos outros responsáveis pela tomada de decisões simplesmente precisam ser melhor informados sobre a seca, seus impactos e enfoques de gerenciamento alternativos e de como as informações e a tecnologia disponíveis podem ser usadas para reduzir os impactos com maior eficácia e a um custo relativamente moderado.
ELABORAÇÃO DE UMA POLÍTICA E DE UM PLANO DE PREPARAÇÃO DO COMBATE AOS EFEITOS DA SECA: UMA ABORDAGEM METODOLÓGICA
Recentemente foi desenvolvido nos Estados Unidos um processo de planejamento para facilitar a preparação de planos de combate aos efeitos da seca por parte dos responsáveis pela tomada de decisões nos governos estaduais (Wilhite, 1991; 1992). Este processo baseava-se em uma metodologia originalmente proposta em 1987 que sintetizava as discussões e recomendações dos participantes em um simpósio e workshop internacional sobre a seca (Wilhite e Easterling, 1987b). Para a aplicação desta metodologia em estados dos Estados Unidos, foram estudados os casos daqueles Estados que dispunham de planos de combate aos efeitos da seca para extrair deles os melhores elementos desses planos e incorporá-los ao processo (Wilhite, 1991; 1992). Este processo também foi modificado para ser aplicado em países em desenvolvimento por meio da interação direta com governos estrangeiros como resultado de uma série de seminários regionais de treinamento sobre gerenciamento e preparação do combate aos efeitos da seca, organizados e conduzidos pelo Centro Internacional de Informações sobre a Seca da Universidade de Nebraska-Lincoln. O primeiro destes seminários foi realizado em 1989 em Botswana para a África Oriental e Meridional. A este seminário se seguiram seminários na Ásia (1991) e América Latina (1993). A metodologia das dez etapas para o planejamento do combate aos efeitos da seca foi usada como um recurso básico para efeitos de instrução nestes seminários. Os seminários foram patrocinados pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, UNEP (United Nations Evironment Program), pela Administração Nacional dos Estados Unidos para os Oceanos e a Atmosfera, NOAA (United States National Oceanic and Atmospheric Administration) e pela Organização Mundial de Meteorologia, WMO (World Meteorological Organization). Na América Latina, o seminário de treinamento foi também patrocinado pela Organização dos Estados Americanos. Uma decorrência desses seminários foi a publicação de um manual de orientação para países em desenvolvimento, Preparação para a Seca (Preparing for Drought, 1992), patrocinado pelo UNIEP. Um quarto seminário foi realizado em 1995 em Gâmbia para a região da África Ocidental. Esta reunião foi realizada sob os auspícios da WMO.
O processo de planejamento foi utilizado ou teve sua aplicação sugerida em outros contextos políticos e escalas geográficas (por exemplo local, estadual, regional, nacional) (por exemplo Great Lakes Commission, 1990; SARCUS, 1990; Oladipo, 1993; Wilhite e Rhodes, 1994; Moran, 1995). O arcabouço descrito abaixo lista as dez etapas consideradas essenciais para o processo de planejamento. As primeiras quatro etapas envolvem a avaliação dos recursos disponíveis para apoiar o desenvolvimento do plano e definir táticas para ganhar apoio público para o processo. O processo aborda as principais questões associadas ao planejamento da seca e pretende ser flexível (os governos podem adicionar, excluir ou modificar etapas conforme necessário).
ETAPA 1. DESIGNAÇÃO DE UMA COMISSÃO NACIONAL PARA O COMBATE AOS EFEITOS DA SECA
O processo de planejamento é iniciado através da designação de uma agência ou Comissão Nacional para o combate aos efeitos da seca (CN). O nome adequado para este grupo (por exemplo comissão, comitê ou força-tarefa) irá variar de região para região. A CN possui dois objetivos. Primeiro, durante o desenvolvimento do plano, a CN exercerá a supervisão e coordenação de desenvolvimento do plano de preparação do combate aos efeitos da seca. Segundo, depois da implementação do plano e durante épocas de seca quando o plano for ativado, a CN assumirá o papel de coordenar as políticas, revisar opções alternativas de políticas de resposta e de encaminhar recomendações para os responsáveis políticos. A CN é um elemento central deste processo de planejamento e estará presente ao longo de toda a discussão da metodologia proposta.
A CN deverá incluir representantes das agências mais relevantes nesta área, em reconhecimento da natureza multidisciplinar da seca, seus diversos impactos e da importância dos componentes, tanto de avaliação como de resposta em qualquer plano abrangente, assim como da forma como este plano será integrado com os objetivos de desenvolvimento sustentável de longo prazo. Entre as agências a serem consideradas para fazer parte da comissão estão as instituições relacionadas com serviços meteorológicos, agricultura, recursos hídricos, planejamento, abastecimento de água, recursos naturais, proteção ambiental, saúde, finanças, economia e desenvolvimento rural, gerenciamento emergencial e turismo. Deveria participar, igualmente, um representante do gabinete do respectivo chefe de governo. Dever-se-ia considerar, também, a inclusão de representantes chave das universidades, da mídia (ou de algum especialista em relações públicas) e grupos de interesse do setor ambiental e/ou de interesse público especial. O objetivo de incluir um especialista em relações públicas é para assegurar que a CN dê atenção a como irá comunicar ao público informações sobre a gravidade da seca e ações de mitigação durante períodos de seca. A efetiva composição da CN será bastante diferente de um país para outro, refletindo a diversidade da infra-estrutura política e da combinação individual dos impactos econômicos, sociais e ambientais associados à seca.
A CN precisará considerar mais adiante a conveniência ou não de formalizar o plano através do processo legislativo (ou de outro processo). O perigo que reside na não formalização é que uma mudança na direção política ou administrativa possa conduzir à deterioração da infra-estrutura do plano. Merece ser salientado que o interesse político na seca diminui rapidamente uma vez passada a crise; a preocupação e o pânico rapidamente dão lugar à apatia após o retorno das chuvas e a melhoria das condições da seca. A memória institucional é igualmente curta. Um plano de combate aos efeitos da seca (e a infra-estrutura a ele associada) que é ad hoc por sua própria natureza pode cessar de existir em relativamente pouco tempo. Formalizar o plano após sua conclusão irá assegurar a permanência da infra-estrutura para assistir futuras gerações no manejo dos recursos hídricos em época de escassez.
ETAPA 2. FORMULAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA E DOS OBJETIVOS DO PLANO
Como primeira ação oficial, a CN deverá formular uma política nacional de combate aos efeitos da seca e os objetivos do plano de combate aos efeitos da seca. Os objetivos de uma política de combate aos efeitos da seca são diferentes daqueles de um plano de combate aos efeitos da seca. Deverá existir uma distinção clara entre estas diferenças desde o início do processo de planejamento. Uma política de combate aos efeitos da seca é formulada em termos gerais e expressa o objetivo do desenvolvimento do governo na avaliação, mitigação e elaboração de programas de resposta à seca. Em última instância, o objetivo de uma política nacional deveria ser a redução da vulnerabilidade à seca através do estímulo ao desenvolvimento sustentável. Os objetivos de um plano de combate aos efeitos da seca são mais específicos e orientados para a ação. É comum que objetivos da política de combate aos efeitos da seca não sejam explicitamente mencionados pelos governos. O que geralmente acontece em muitos países é uma política de fato, definida pelas necessidades mais prementes do momento. Ironicamente, nessas circunstâncias, são os instrumentos específicos dessa política (como ações emergenciais) que definem os objetivos da política. Sem objetivos claramente expressos da política de combate aos efeitos da seca, é difícil dimensionar a efetividade das atividades de avaliação e resposta.
Os objetivos de uma política de combate aos efeitos da seca variam consideravelmente entre os diversos países. Com base em uma análise comparativa dos esforços de avaliação e de resposta à seca nos Estados Unidos e na Austrália, foram propostos três objetivos para uma política nacional (Wilhite, 1986). Primeiro, a ajuda deveria estimular ou proporcionar incentivos para que produtores agrícolas, municipalidades e outros setores ou grupos dependentes de água adotem práticas de gerenciamento adequadas e eficientes que contribuam para amenizar os efeitos da seca. A mitigação é definida aqui como as atividades que reduzem o grau de risco de longo prazo para a vida humana e a propriedade decorrente de riscos naturais e causado pelo homem. No caso da seca, as ações de mitigação devem ser interpretadas de uma maneira mais ampla que no de outros riscos naturais, devido a natureza não estrutural da maioria desses impactos. Ações emergenciais ou medidas assistenciais na Austrália (Wilhite et al., 1993), nos Estados Unidos (Wilhite, 1991), na África do Sul (Bruwer, 1993) e em outros países têm desestimulado a auto-ajuda através do incentivo de práticas de gerenciamento que são freqüentemente inadequadas ou insustentáveis em determinados contextos. Este objetivo enfatiza a aceitação da seca como um elemento normal do clima e a preparação para riscos de seca ou seu gerenciamento como uma atividade que faz parte da rotina normal da administração.
Segundo, no caso de proporcionar ajuda, ela deveria ser concedida de forma eqüitativa, consistente e previsível a todos os afetados, independentemente das circunstâncias econômicas, do setor de atividades ou da região geográfica. O objetivo maior de um plano de preparação para o combate à seca é reduzir a vulnerabilidade e a necessidade de intervenções por parte dos governos. Entretanto, quando for necessário proporcionar ajuda, ela provavelmente será proporcionada de muitas maneiras, incluindo a ajuda técnica. Qualquer que seja a forma, aqueles que estão expostos ao risco devem saber o que esperar do governo durante a seca para que possam preparar-se melhor para gerenciar esse risco. O papel das organizações não governamentais (ONGs) com relação aos esforços assistenciais deve ser definido com precisão para que elas complementem os esforços assistenciais dos governos.
Terceiro, a importância de proteger a base de recursos naturais e agrícolas deve ser reconhecida. Este objetivo enfatiza a importância de promover um desenvolvimento que seja sustentável a longo prazo. Muitos programas governamentais e projetos de desenvolvimento foram claramente direcionados para o curto prazo, aumentando a vulnerabilidade a futuros episódios de seca. Por exemplo, políticas agrícolas que estimulam a expansão da agricultura em áreas marginais não são saudáveis quando examinadas no contexto da sustentabilidade. O desenvolvimento de uma política nacional de combate aos efeitos da seca deveria conduzir a uma avaliação de todos os programas governamentais pertinentes para assegurar que eles sejam consistentes com os objetivos desta política.
No início do processo de planejamento, os membros da CN deverão considerar muitos aspectos referentes ao desenvolvimento de uma política de combate aos efeitos da seca, incluindo os seguintes:
- Qual é o objetivo e o papel do governo com relação à preparação do combate aos efeitos da seca, à avaliação dos impactos e à resposta à seca?
- Qual deveria ser o escopo de plano (por exemplo, dirigido para a agricultura, para o uso da água municipal, ou para impactos múltiplos)?
- Qual é o peso que deveria ser dado ao fornecimento e à distribuição de alimentos ou à manutenção da situação alimentícia de vários grupos da população?
- Quais são os vínculos entre a seca e processos de degradação do solo (por exemplo desertificação)?
- Quais são as áreas com maior tendência à seca no país?
- Quais são os setores mais vulneráveis da economia nacional?
- Quais são as principais preocupações sociais e ambientais associadas à seca?
- Quais são os grupos mais vulneráveis da população?
- O plano de combate aos efeitos da seca será um veículo para a solução de conflitos entre usuários da água durante períodos de escassez?
- Quais são os recursos (humanos e financeiros) que o governo (e organizações doadoras) estão dispostos a comprometer com o processo de planejamento e em apoio ao plano, uma vez concluído?
- Quais são as implicações legais e sociais do plano?
Seguindo o desenvolvimento de uma política de combate aos efeitos da seca, a próxima ação da CN será identificar os objetivos específicos do plano. O planejamento do combate aos efeitos da seca é definido como as ações empreendidas por cidadãos individuais, setores econômicos, governos, ONGs e outros, com anterioridade à seca, com o propósito de amenizar alguns dos impactos e conflitos associados à sua ocorrência (Wilhite, 1991). Para obter sucesso, o planejamento do combate aos efeitos da seca deverá estar integrado entre os níveis de governo, envolvendo o setor privado, onde pertinente, já no início do processo de planejamento. Alguns governos (por exemplo da Austrália, da Índia, da África do Sul) estão atualmente implementando uma abordagem mais pró-ativa do gerenciamento da seca. Na maioria dos países, no entanto, há muito ainda por fazer.
A formulação geral de objetivos de um plano de combate aos efeitos da seca significa proporcionar aos governos um meio efetivo e sistemático de avaliação e resposta e de mitigação dos efeitos da seca. Os objetivos de planos de combate aos efeitos da seca, certamente irão variar entre os países e deverão refletir as características singulares físicas, ambientais, sócio-econômicas e políticas desses países. Entre os objetivos a serem considerados estão os seguintes:
- Providenciar, em tempo hábil e de maneira sistemática, a coleta de dados, a análise e a divulgação de informações relacionadas com a seca.
- Estabelecer critérios adequados para identificar e designar áreas afetadas pela seca e para determinar o início e o fim de diversas atividades de avaliação e resposta por parte das agências governamentais, ONGs e outros durante os períodos emergenciais da seca.
- Providenciar uma estrutura organizacional que assegure o fluxo de informações dentro dos níveis governamentais e entre eles e que defina as obrigações e responsabilidades de todas as agências com referência à seca.
- Desenvolver um conjunto adequado de programas emergenciais e de longo prazo para serem usados na avaliação, resposta e mitigação dos efeitos de período prolongado de escassez de água.
- Providenciar um mecanismo para assegurar a avaliação oportuna e precisa dos impactos da seca sobre a agricultura, a indústria, as municipalidades, a vida animal, a saúde e outras áreas, conforme necessário.
- Fornecer informações precisas à mídia, em tempo hábil, para manter o público informado sobre as condições atuais e as ações de resposta.
- Estabelecer a seguir uma estratégia de remoção de obstáculos para a alocação eqüitativa de água durante períodos de escassez e proporcionar incentivos para estimular a conservação de água.
- Estabelecer um conjunto de procedimentos para avaliar e revisar o plano de forma contínua para manter a capacidade de resposta do plano às necessidades nacionais.
Sugere-se que os países considerem estes objetivos no contexto de sua vulnerabilidade à seca e façam as ampliações, exclusões e modificações que considerem necessárias.
ETAPA 3. EVITAR E SOLUCIONAR CONFLITOS ENTRE O SETOR AMBIENTE E O SETOR ECONÔMICO
À medida que a concorrência por recursos hídricos escassos aumenta, é freqüente a colisão de interesses políticos, sociais e econômicos durante épocas de seca e alcançar compromissos pode ser difícil nestas circunstâncias. Para reduzir o risco de conflito entre usuários da água durante períodos de escassez, é essencial que o público receba uma interpretação equilibrada de mudanças da situação através da mídia e de outras fontes. A CN deverá assegurar que sejam emitidos comunicados freqüentes, abrangentes e precisos para explicar mudanças nas condições e a existência de áreas com problemas complexos, assim como situações cujas soluções vão requerer compromissos dos dois lados. Já na sua fase inicial, o processo de planejamento do combate aos efeitos da seca deverá levar em consideração as opiniões dos cidadãos e de grupos de interesse ambientais e de outras áreas especiais para reduzir o potencial de conflitos. Embora o nível de envolvimento desses grupos sem dúvida varie de um contexto para outro, é digno de nota o poder dos grupos de interesse como relação à formulação de políticas. Em alguns países, organizações de interesse público iniciam e vêm participando já há algum tempo do desenvolvimento de políticas e planos de recursos naturais e dispõem de ampla experiência neste processo. O envolvimento destes grupos no estabelecimento de objetivos adequados para as políticas fortalecerá a política e o plano em seu conjunto. Além do mais, esse envolvimento assegura que os diversos valores da sociedade estejam adequadamente representados na política e no plano. Recomenda-se a criação de um grupo de assessoria composto de representantes desses grupos como meio para abordar suas preocupações.
ETAPA 4. LEVANTAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS, BIOLÓGICOS E HUMANOS E DAS LIMITAÇÕES FINANCEIRAS E LEGAIS
É possível que a CN precise iniciar um levantamento dos recursos naturais, biológicos e humanos, incluindo a identificação de limitações financeiras e legais. Em muitos casos, já existe um acervo considerável de informações com relação aos recursos disponíveis, principalmente nas áreas de recursos naturais e biológicos. Em termos gerais, a disponibilidade de informações é menor em países em desenvolvimento. É também importante definir a vulnerabilidade desses recursos a períodos de escassez de água em decorrência da seca. Recursos incluem, por exemplo, recursos físicos e biológicos, conhecimentos humanos, infra-estrutura e meios financeiros à disposição do governo. O recurso natural importante de maior evidência é a água. Onde está localizada, qual é o grau de acessibilidade, qual é a sua qualidade? Recursos biológicos se referem à qualidade e quantidade de áreas de pradarias/pastagens, florestas, vida animal, etc. Recursos humanos incluem mão-de-obra necessária para desenvolver recursos hídricos, construir adutoras, transportar água e ração animal, processar queixas dos cidadãos, fornecer assistência técnica e encaminhar os cidadãos para os serviços disponíveis. Além disso, representantes do governo definem as agências locais, estaduais ou nacionais que serão convocadas a participar das ações.
Limitações financeiras incluem custos para o transporte de água e ração animal, custos para novos programas e coleta de dados, etc. Estes custos deverão ser ponderados em comparação com as perdas que poderão acontecer em caso da ausência de um plano de combate aos efeitos da seca. Deve-se reconhecer também que os recursos financeiros à disposição do governo variam anualmente e de uma administração para outra. Isto pode proporcionar incentivos adicionais para que os governos formalizem os planos de combate aos efeitos das secas através de procedimentos legislativos ou outros (ver etapa 1), assegurando assim a disponibilidade dos fundos para levar adiante programas existentes. .Limitações legais incluem direitos do uso da água, leis existentes com relação a trustes públicos, métodos disponíveis para controle do uso, requisitos para empresas públicas de abastecimento de água e poderes em casos de emergência e outros poderes dos responsáveis políticos e governamentais durante épocas de escassez de água.
Um levantamento desses recursos revelaria ativos e responsabilidades que poderiam ampliar ou inibir o cumprimento dos objetivos do processo de planejamento. Este estudo sistemático deverá incluir recursos disponíveis em vários níveis governamentais e os recursos freqüentemente únicos disponíveis nas universidades. Uma avaliação abrangente dos recursos disponíveis poderá proporcionar as informações necessárias para as ações a serem empreendidas pela CN. A CN poderá também achar conveniente analisar os planos disponíveis de combate aos efeitos da seca em países vizinhos e/ou com características climáticas semelhantes.
ETAPA 5. ELABORAÇÃO DO PLANO DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA
A CN estará encarregada da coordenação do desenvolvimento do plano de combate aos efeitos da seca. Uma vez concluído prevê-se que o plano siga uma abordagem passo a passo em etapas a medida que as condições hídricas foram se deteriorando e ações mais incisivas se fizerem necessárias. Para esse fim deverão ser estabelecidas etapas para que, uma vez ultrapassadas, sejam desencadeadas ações nas agências governamentais conforme definido na estrutura do plano.
Um plano de combate aos efeitos da seca deverá incluir três componentes organizacionais básicos: monitoramento ou alerta precoce, avaliação de impactos e resposta. Embora estas sejam atividades diferentes entre si, vínculos formais deverão ser incorporados ao plano para que ele funcione corretamente e possa responder às demandas estruturais e locais e à evolução das condições. Estes três componentes organizacionais serão discutidos abaixo em maior detalhe.
Componente de Monitoramento: Comitê de Disponibilidade de Recursos Hídricos (CDRH)
Deverá ser instalado um comitê de disponibilidade dos recursos hídricos (CDRH) para monitorar a disponibilidade atual dos recursos hídricos e avaliar a possibilidade da disponibilidade futura de água e das condições de umidade. O presidente deste comitê deverá ser membro permanente da CN. O CDRH terá quatro funções básicas durante o processo de desenvolvimento do plano.
1 - Colocar a disposição os dados do estoque e redes atuais de observação.
2 - Determinar as necessidades básicas dos usuários e desenvolver e/ou modificar os sistemas atuais de dados e suprimento de informações.
3 - Definir a seca e desenvolver um sistema para desencadear respostas.
4 - Desenvolver um sistema de alerta precoce.
5 - Identificar as áreas de gerenciamento do combate aos efeitos da seca.
Entre seus participantes o comitê deverá contar com representantes de agências com responsabilidade para previsão e monitoramento dos indicadores relevantes do equilíbrio hídrico (por exemplo variáveis meteorológicas como precipitação e temperatura, umidade do solo, cobertura de neve, armazenamento de águas superficiais, águas subterrâneas e vazão). Em alguns casos, muitas agências nacionais e outros níveis governamentais são responsáveis pelo monitoramento desses indicadores. Não é necessário que todas estas agências estejam representadas no comitê. Recomenda-se, de preferência, que os dados e as informações sobre cada um dos indicadores pertinentes sejam levados em consideração na avaliação do comitê sobre a situação da água e as perspectivas para o país.
É importante que o CDRH tenha caráter permanente e mantenha reuniões periódicas para avaliar a situação e as perspectivas das condições hídricas. O comitê deverá reunir-se mensalmente ao longo de todo o ano e, com maior regularidade, antes e durante o período mais crítico. Uma vantagem de encontros regulares é que o comitê funcionará como uma equipe em virtude da interação permanente. Outra vantagem é que um comitê permanente pode ser útil no alerta precoce de problemas hídricos emergentes e potencialmente graves, sejam eles causados por situações de escassez ou excesso. É comum a existência simultânea de situações de escassez e excesso em um país. As reuniões do CDRH serão mais freqüentes se as condições climáticas assim o fizerem necessário.
Componente de Impacto: Comitê de Avaliação do Impacto (CAI)
Durante os períodos de seca, os impactos serão de longo alcance, envolvendo diversos setores econômicos e as atribuições/competências de vários níveis de governo. O comitê de avaliação do impacto (CAI) representará esses setores econômicos a serem mais provavelmente afetados pela seca (por exemplo agricultura, transporte). O CAI deverá estar composto de um equipe inter-agências com responsáveis pelas agências ou seus representantes, e seu presidente deverá ser membro permanente da CN. Pode ser recomendável a inclusão de acadêmicos e representantes de organizações internacionais que tenham experiência na avaliação precoce de impactos. O CAI deverá considerar tanto as perdas diretas como indiretas causadas pela seca. Com freqüência, assistência é apenas fornecida àqueles com perdas diretas enquanto a agricultura e outros ramos que sofrem impactos secundários são amplamente ignorados. Em função da evidente dependência do CAI do CDRH, a comunicação freqüente entre ambos é essencial.
O CAI deverá dedicar especial atenção a todo o conjunto de impactos associados com a seca e aos mecanismos para reduzir esses impactos e também determinar como direcionar a ajuda para àquelas áreas econômicas ou setores vulneráveis da população, à medida que a necessidade for surgindo. Uma das principais falhas dos esforços de resposta do passado tem sido a incapacidade dos governos em encaminhar o tipo de ajuda necessário ao setor econômico ou à população em tempo hábil. Ajuda mal direcionada ou que não chega oportunamente é de pequeno ou nenhum valor e bastante onerosa para o contribuinte. O CAI deverá trabalhar em contato estreito com o CDRH e a CN para assegurar que isso não ocorra.
Componente de Mitigação e Resposta: Comissão Nacional da Seca
O terceiro e último elemento de um plano de combate aos efeitos da seca ó o componente de mitigação e resposta. A responsabilidade deste componente é propiciar a criação de programas de longo prazo para reduzir a vulnerabilidade à seca, agindo com base nas informações e recomendações do CAI. O CAI deverá avaliar o escopo de instrumentos de ajuda disponível a partir do governo e de outras fontes para prestar assistência a produtores rurais, municipalidades e outros setores durante períodos de emergência. A necessidade de investigação por parte dos governos tenderá a diminuir à medida que os indivíduos se tornarem mais propensos à auto-ajuda. Em virtude de ser um órgão formulador de políticas, o CAI deverá ser composto de responsáveis políticos de nível sênior, precisamente a mesma composição da CN. Portanto, além da supervisão do desenvolvimento do plano de preparação para o combate aos efeitos da seca, a CN deverá assumir o papel de mitigação e resposta no seguimento do desenvolvimento do plano.
Durante o processo de desenvolvimento do plano, a CN deverá realizar um levantamento de todas as formas de assistência disponíveis durante uma seca grave oriundas de fontes governamentais e não governamentais. A CN deverá avaliar programas de curto prazo e sua capacidade para abordar situações de emergência, assim como programas de mitigação de longo prazo e sua capacidade para reduzir a vulnerabilidade à seca. A CN poderá considerar a transferência desta tarefa para o CAI. A CN (ou o CAI) deverá recomendar igualmente outras formas de programas de assistência que possam ser desenvolvidos em resposta à seca. Durante períodos de seca, a CN fará recomendações ao chefe de estado ou ao representante constituído com relação a ações específicas que deverão ser empreendidas.
A assistência à seca deve ser definida de maneira muito ampla para incluir todas as formas de programas técnicos e de assistência disponíveis a partir do governo e de fontes não governamentais. Opções racionais de resposta deverão ser estabelecidas para cada um dos principais setores de impacto identificados pelo CAI. Estas opções devem analisar medidas adequadas de mitigação da seca em três escalas temporais: 1. medidas de curto prazo (de respostas ou emergenciais) implementadas durante a seca, 2. medidas de médio prazo (de recuperação) implementadas para reduzir a duração do período de recuperação pós-seca, e 3. medidas ou programas de longo prazo (pró-ativos) implementados com tentativa de reduzir a vulnerabilidade da sociedade a secas futuras. Em muitos casos, deverão ser procurados insumos locais para determinar as formas de assistência requeridas pelos diversos setores de impacto.
A vulnerabilidade da sociedade à seca pode ser substancialmente influenciada por ações não relacionadas com a seca ou políticas implementadas durante períodos sem seca. A política nacional de combate aos efeitos da seca formulada na Etapa 2 será especialmente benéfica neste momento. O governo deverá considerar os efeitos de programas emergenciais sobre objetivos de desenvolvimento de longo prazo e se resguardar contra a implementação de programas emergenciais que retirem recursos de programas de desenvolvimento ou interfiram no seu cumprimento, como aconteceu no Brasil (Magalhães, 1993). Programas de emergência deveriam promover o alcance das metas de desenvolvimento.
ETAPA 6. IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES DE PESQUISA E LACUNAS INSTITUCIONAIS
A Etapa 6 deverá ser implementada concomitantemente com a Etapa 5. O objetivo desta etapa é identificar necessidades de pesquisa para apoiar as metas do plano de combate aos efeitos da seca e recomendar projetos para eliminar as falhas que possam existir. É pouco provável que se conheçam as necessidades de pesquisa e as lacunas institucionais até que os diversos comitês formados durante o processo de planejamento do combate aos efeitos da seca tenham passado pela experiência do processo de planejamento. A compilação de informações sobre necessidades de pesquisa e lacunas institucionais é uma função da CN. Por exemplo, o CDRH pode recomendar o estabelecimento ou a ampliação de uma rede de monitoramento de águas subterrâneas existente. A CN pode visar a criação de um painel de assessoria científica multidisciplinar para avaliar propostas, estabelecer prioridades para o financiamento e procurar ajuda financeira junto a organizações internacionais ou regionais adequadas, ONGs ou governos doadores.
É provável que deficiências institucionais possam ser identificadas como parte da Etapa 6. Poderá ser necessário mudar as competências ou a missão de algumas agências para apoiar as atividades do plano de combate aos efeitos da seca, modificações essas que poderão requerer uma ação legislativa.
ETAPA 7. SÍNTESE DOS ASPECTOS RELACIONADOS COM A CIÊNCIA E AS POLÍTICAS
Etapas prévias no processo de planejamento consideraram os aspectos relacionados com a ciência e as políticas de forma separada, dedicando especial interesse à avaliação do status da ciência ou aos mecanismos institucionais existentes ou necessários para apoiar o plano. Um aspecto essencial do processo de planejamento é a síntese da ciência e da política da seca e do gerenciamento da seca. Este é o propósito da Etapa 7.
A compreensão do formulador de políticas com relação aos aspectos científicos e às limitações técnicas envolvidas na abordagem de problemas associados com a seca é freqüentemente muito reduzida. Igualmente, os cientistas geralmente possuem pouca compreensão das limitações políticas existentes que afetam a resposta à seca. Um painel de pesquisadores e especialistas em políticas concluiu que o nível de comunicação e compreensão entre a comunidade científica e a dos formuladores de políticas é muito reduzido e deve ser ampliado para que o processo de planejamento possa obter sucesso (Wilhite e Easterling, 1987a). É necessário um contato direto e intenso entre os dois grupos para diferenciar o que é viável do que é desejável para uma ampla gama de temas científicos e políticos. A integração de ciência e política durante o processo de planejamento será igualmente útil para definir prioridades e elaborar uma síntese do entendimento atual. A CN deverá considerar diversas alternativas para reunir estes grupos.
É de vital importância para o processo de integração que, dentro do processo de planejamento, seja estabelecido um meio para facilitar o intercâmbio de informações científicas entre cientistas e os responsáveis pelas políticas. Como esta não é sua missão principal, é pouco provável que cientistas dediquem espontaneamente grande atenção à elaboração de resultados de pesquisas e a sua divulgação de maneira regular e continuada. Um caminho para atingir esta integração é designar uma pessoa ou grupo específico de contato para facilitar o intercâmbio.
ETAPA 8. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA
O plano de combate aos efeitos da seca deverá ser implementado pela CN para dar um máximo de visibilidade ao programa e de crédito às agências e organizações que exercem um papel líder ou de apoio na sua operação. Como no caso de planos de resposta em situações de emergência para outros riscos naturais, todo ou parte do sistema deveria ser testado em condições de secas simuladas antes de sua implementação. Recentemente foi desenvolvido nos Estados Unidos um exercício de simulação da seca em condições que imitam a “realidade virtual” para ajudar os responsáveis pela tomada de decisões no processo decisório (Werick, 1994). Sugere-se, igualmente, que a divulgação e a implementação aconteçam pouco antes da estação mais sensível à seca para beneficiar-se do interesse público em torno da questão. Em um contexto rural, essa época seria antes do plantio ou em algum outro momento crítico durante o crescimento das culturas. A cooperação da mídia é essencial para criar publicidade para o plano e ela deve ser completamente informada da lógica do plano bem como de seu propósito, objetivos, procedimentos de avaliação de resposta e do marco organizacional. Se um representante da mídia ou um especialista em relações públicas for membro da CN, como recomendado, esta pessoa deverá tornar-se uma fonte preciosa para a realização desta etapa do processo de planejamento.
O treinamento da equipe que estará envolvida ativamente na operação do plano também é muito importante para que o plano atinja os objetivos específicos. O treinamento deverá incluir não apenas membros das principais agências nacionais envolvidas na ativação do plano, mas também integrantes dos governos em nível estadual e local que proporcionarão insumos valiosos ao processo de decisão. Os atores chave no plano de combate aos efeitos da seca devem possuir uma compreensão total de suas responsabilidades durante a seca e de como essas atribuições se relacionam com as de outras organizações a nível de governo. Se eles não compreenderem o plano e como funciona, ele irá fracassar.
Na ausência de seca durante vários anos consecutivos, a CN deverá conduzir exercícios de simulação para manter a liderança informada de suas responsabilidades durante a seca. Esta é uma prática comum para a mitigação de desastres naturais (por exemplo terremotos, furacões) e não deveria ser diferente no caso da seca. Mudanças na liderança política, aposentadorias, promoções e transferências para outras posições podem perturbar a integridade do plano.
ETAPA 9. DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA EDUCACIONAL E DE TREINAMENTO EM VÁRIOS NÍVEIS
Programas educacionais e de treinamento deverão concentrar-se em diversos pontos. Primeiro, deverá estabelecer-se um nível maior de compreensão para aumentar a consciência do público referente à seca e à conservação da água e a maneira em que cidadãos individuais e o setor público e privado podem ajudar para amenizar os impactos no curto e longo prazo. O processo educacional poderia começar com o desenvolvimento de um programa de conscientização da mídia. Este programa poderia incluir mecanismos para melhorar a compreensão da mídia sobre o problema da seca e a complexidade dos aspectos de gerenciamento envolvidos, assim como um procedimento para assegurar o fluxo de informações confiáveis e em tempo hábil à todos os integrantes da mídia (por exemplo via conferências de imprensa). Segundo, a CN deverá iniciar um programa informativo visando a educação da população em geral sobre o gerenciamento da seca e dos recursos hídricos e o que podem fazer como indivíduos para conservar a água no curto prazo. Os programas educacionais deverão ser projetados para o longo prazo, visando atingir uma melhor compreensão das questões relacionadas com a conservação da água por parte de todos os grupos etários e setores econômicos. Se programas desse tipo não forem desenvolvidos, o interesse dos governos e do público e o apoio para o planejamento do combate aos efeitos da seca e à conservação da água desaparecerão durante períodos sem seca.
ETAPA 10. DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA
A etapa final no estabelecimento de um plano de combate aos efeitos da seca é a criação de um conjunto de procedimentos para assegurar uma avaliação adequada. Para maximizar a efetividade do plano, dois tipos de avaliação deverão estar presentes:
- Um programa de avaliação contínuo ou operacional que considere de que maneira mudanças na sociedade como, por exemplo, novas tecnologias, a disponibilidade de resultados de novas pesquisas, ações legislativas e mudanças na liderança política podem afetar a operação do plano.
- Um programa de avaliação pós-seca que documente e analise de forma crítica se as ações de avaliação e resposta do governo, das ONGs e de outros participantes foram ou não adequadas e que elabore recomendações para melhorar o sistema.
O primeiro tipo de avaliação pretende analisar o planejamento do combate aos efeitos da seca como um processo dinâmico e não como um evento único. O programa de avaliação operacional tem como propósito manter atualizado o sistema de avaliação e de resposta à seca e deixá-lo aberto às necessidades nacionais. Seguindo o estabelecimento inicial do plano, ele deveria ser monitorado rotineiramente para assegurar que as mudanças na sociedade que possam afetar o abastecimento e/ou a demanda de água ou práticas regulatórias sejam consideradas e incorporadas. De igual forma, os planos de combate aos efeitos da seca deverão ser revisados periodicamente.
O segundo tipo de avaliação é a auditoria pós-seca, que deverá ser conduzida ou encomendada pelos governos em resposta a cada episódio maior da seca. A memória institucional se apaga rapidamente após a seca como resultado de mudanças na administração política, o atrito natural entre pessoas em cargos de liderança e a destruição do registro crítico dos eventos e ações empreendidas. Avaliações pós-seca deveriam incluir uma análise dos aspectos físicos da seca: seus impactos sobre o solo, águas subterrâneas, plantas e animais; suas conseqüências econômicas e sociais; e em que medida o planejamento anterior à seca foi útil para amenizar os impactos, facilitar ajuda ou assistência às áreas atingidas e na recuperação pós-seca. A atenção deverá ser também dirigida para as situações nas quais o mecanismo para enfrentar os efeitos da seca funcionaram e onde a sociedade demonstrou uma capacidade rápida de recuperação; a avaliação não deveria apenas focalizar aquelas situações em que os mecanismos de combate falharam. Providências deverão ser tomadas para implementar as recomendações emanadas deste processo de avaliação. Recomenda-se a utilização das avaliações de respostas anteriores a situações graves de seca como ajuda para o planejamento na definição das ações (tanto técnicas como de assistência) que demonstraram maior eficácia.
O processo de avaliação pós seca identificará uma série de tópicos que poderão requerer outras pesquisas para que possam ser abordados mais adequadamente em futuros episódios de seca. Por exemplo, pouco se sabe sobre os efeitos dos programas governamentais de ajuda no combate aos efeitos da seca. Eles facilitam ou dificultam o processo de recuperação? Poderá ser necessária uma ampla pesquisa sobre os efeitos ambientais e sócio-econômicos da escassez prolongada de precipitações sobre diversos aspectos hidrológicos, como a exaustão da água do solo e a redução das águas subterrâneas. A aferição dos efeitos da seca sobre o uso do solo, a vegetação e o solo é essencial para o processo de avaliação dos impactos da seca.
Para assegurar uma avaliação isenta, os governos deverão atribuir a responsabilidade para a avaliação dos efeitos da seca e a resposta da sociedade a organizações não governamentais, como universidades e/ou agências ou instituições especializadas. Um excelente exemplo desta prática atualmente em operação, é a avaliação do Programa Alimentos para o Trabalho na Índia (Sinha et al., 1987). Embora o programa seja implementado pelo governo, a avaliação está a cargo de um organismo independente, a Comissão de Planejamento (Wilhite e Easterling, 1989). Fundações privadas, organismos de pesquisa e organizações internacionais deverão ser incentivadas a apoiar avaliações pós-seca.
RESUMO E CONCLUSÕES
As avaliações pós-seca das respostas dos governos aos efeitos da seca demonstraram que o enfoque de reação à seca ou de gerenciamento da crise tem conduzido a respostas ineficientes, mal coordenadas e inoportunas. A magnitude das perdas econômicas, sociais e ambientais nas últimas décadas em países em desenvolvimento e em países desenvolvidos evidenciou a vulnerabilidade de todos os países a períodos prolongados de secas graves. A maior conscientização e compreensão da seca levou um número crescente de governos à adoção de um enfoque mais pró-ativo com relação ao gerenciamento da seca, na tentativa de reduzir os impactos no curto prazo e a vulnerabilidade no longo prazo. Este enfoque deverá integrar a política de combate aos efeitos da seca com aspectos relacionados com o desenvolvimento sustentável.
O desenvolvimento de políticas de combate aos efeitos da seca que promovam o gerenciamento de riscos e a preparação de planos de contingência representam uma mudança filosófica dos governos na abordagem do gerenciamento da seca. Planos de preparação para o combate aos efeitos da seca propiciam uma maior coordenação dentro dos diversos níveis de governo e entre eles, assim como avanços nos procedimentos para o monitoramento, avaliação, resposta e mitigação de graves deficiências hídricas, além de uma utilização mais eficiente dos recursos naturais, financeiros e humanos.
Recomenda-se que os governos de todo os países passíveis de serem afetados pela seca procedam imediatamente à elaboração de planos de preparação para o combate aos efeitos da seca. Os elementos essenciais a serem considerados na formulação desses planos foram apresentados neste documento em um processo de dez etapas para facilitar o desenvolvimento do plano. Um plano de preparação do combate aos efeitos da seca levará a uma abordagem mais eficaz, eficiente e oportuna do gerenciamento da seca, com maior ênfase na redução da vulnerabilidade a longo prazo em vez de priorizar respostas emergenciais no curto prazo. Recomenda-se aos governos uma consideração detalhada dos processos de planejamento sugeridos, através de modificações e adaptações de acordo com as suas necessidades específicas e acrescentando ou eliminando etapas conforme necessário.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I e Wisner, B.: 1994, At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability, and Disasters, Routledge, Londres.
Bruwer, J.J.: 1993, Drought Policy in the Republic of South Africa, em D.A. Wilhite (ed.), Drought Assessment, Management, and Planning: Theory and Case Studies, Kluwer Acad. Publ., Boston.
Domeisen, N.: 1995, Disasters: Threat social development, STOP Disasters: the IDNDR Magazine, Nr. 23, Winter, IDNDR Secretariat, Genebra, Suiça.
Great Lakes Commission: 1990, A Guidebook to Drought Planning, Management and Water Level Changes in the Great Lakes, Ann Arbor, Michigan.
Falkenmark, M.: 1992, Water scarcity and population growth: A spiralling risk, Ecodecision 6, 21-23.
Hagman, G.: 1984, Prevention Better than Cure, Report on Human and Environmental Disasters in the Third World, Preparado para a Cruz Vermelha da Suécia, Estocolmo.
Magalhães, A.R.: 1993, Drought and policy responses in the Brazil northeast, in D.A Wilhite (ed.), Drought Assessment, Management, and Planning: Theory and Case Studies, Kluwer Acad. Publ., Boston.
Moran, R.: 1995, Drought planning and management for urban water supplies in Victoria, Austrália, in R. Hermann, W. Black, R.C. Sidle, e A.I. Johnson (eds.), Water Resources and Environmental Hazards: Emphasis on Hydrologic and Cultural Insight in Pacific Rim: An International Symposium (Anais), American Water Resources Association.
Obasi, G.P.: 1986, Drought response plans, Memo from the Secretary-General of WMO to Permanent Representatives of Members of WMO, 14 de maio, Genebra, Suiça.
Office of Foreign Disaster Assistance: 1990, Disaster History: Significant Data on Major Disasters Worldwide, 1900 - Present U.S Agency for International Development, Washington D.C
Oladipo, E.O.: 1993, A comprehensive approach to drought and desertification in Northern Nigeria, Natural Hazards 8, 235-261.
Parry, M.L. e Carter, T.R.: 1987, Climate impact assessment: A review of some approaches, Capítulo 13, em D.A. Wilhte e W.E. Esasterling (eds.), Planning for Drought: Toward a Reduction of Societal Vulnerability, Westview Press, Boulder, Colorado, EUA.
Riebsame, W.E, Changnon, Jr. S.A. e Karl, T.R.: 1990, Drought and Natural Resources Management in the United States: Impacts and Implications of the 1987-89 Drought, Westview Press, Boulder, Colorado, EUA.
SARCCUS: 1990, Proceedings of the SARCCUS Drought Workshop, Southern African Regional Commission for the Conservation and Utilization of the Soil, Pretoria, South Africa.
Sinha, S.K., Kailasanathan, K. e Vasistha, A.K.: 1987, Drought management in India; Steps towards eliminating famines, Capítulo 27, em D.A Wilhite e W.E Easterling (eds.) Planning for Drought: Toward e Reduction of Societal Vulnerability, Westview Press, Boulder, Colorado, EUA.
Werick, W.: 1994, Virtual drought and shared visions: Some innovations from the national drought study, em D.A. Wilhte e D.A. Wood (eds.), Drought Management in a Changing West: New Directions for Water Policy (Conference Proceedings), IDIC Technical Report Series 94-1, Universidade de Nebraska, Lincoln, Nebraska.
White, D., Collins D., e Howden, M.: 1993, Drought in Australia: Prediction, monitoring, management, and policy, em D.A Wilhite (ed.), Drought Assessment, Management, and Planning: Theory and Case Studies, Kluwer Acad. Publ., Boston.
Wilhite, D.A. e Glantz, M.H.: 1985, Understanding the drought phenomenon: The role of definitions, Water International 10, 111-120.
Wilhite, D.A., Rosenberg, N.J., e Glantz, M.H.: 1986, Improving federal response to drought, J. Clim. Appl. Meteorol. 25, 332-342.
Wilhite, D.A.: 1986, Drought policy in the U.S. and Australia: A comparative analysis, Water Resource Bull. 22, 425-438.
Wilhite, D.A.: 1987, The role os government in planning for drought: Where do we go from here? em D.A. Wilhite e W.E Easterling (eds.), Planning for Drought: Toward e Reduction of Societal Vulnerability, Westview Press, Boulder, Colorado, EUA.
Wilhite, D.A. e Easterling, W.E.: 1987a, Introduction (worhshop summary), Capítulo 34, em: D.A. Wilhite e W.E Easterling (eds.), Planning for Drought: Toward a Reduction of Societal Vulnerability, Westview Press, Boulder, Colorado, EUA.
Wilhite, D.A. e Easterling, M.E.: 1987b, Drought policy: Toward a plan of action, Capítulo 37, em D.A. Wilhite e W.E. Easterling (eds.), Planning for Drought: Toward a Reduction of Societal Vulnerabiliti, Westview Press, Boulder, Colorado, EUA.
Wilhite, D.A. e Easterling, W.E.: 1989, Coping with drought: Toward a plan of action, Eos 70(7): 97, 106-108.
Wilhite, D.A.: 1991, Drought planning: A process for state government, Water Resource Bull. 27(1), 29-38.
Wilhite, D.A.: 1992, Preparing for Drought: A Guidebook for Developing Countries, Climate Unit, Unaited Nations Environment Program, Nairobi, Kenya.
Wilhite, D.A.: 1993, Druoght assessment, managment and planning: Theory and case studies, Kluwer Acad. Publ., Boston, Mass.
Wilhite, D.A. e Rhodes, S.R.: 1994, State-level drought planning in teh United States: Factors influencing plan development, Water International 19, 15-24.
Arquivo contendo o documento completo em MS Word 97 (531kb).
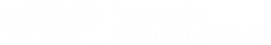
Redes Sociais